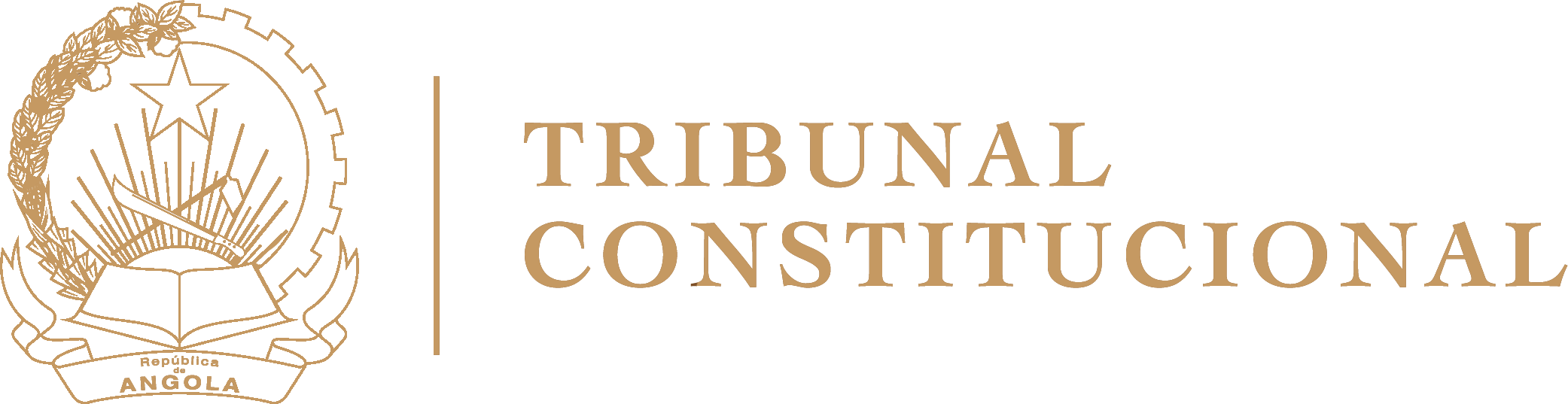ACÓRDÃO N.º 1027/2025
PROCESSO N.º 1269-A/2025
Processo de Fiscalização de Inconstitucionalidade por Omissão
Em nome do Povo, acordam, em Conferência, no Plenário, os Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional:
I. RELATÓRIO
Os Deputados a Assembleia Nacional, melhor identificados a fls. 2 e 3 dos autos, vieram, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 232.º da Constituição da República de Angola (CRA), conjugado com os artigos 213.º, 214º, 217.º, 218.º e 242º, todos da CRA e a alínea c) do artigo 3.º e artigo 31.º da Lei n.º 3/08, de 17 de Junho, Lei do Processo Constitucional (LPC), impetrar a presente acção de fiscalização de inconstitucionalidade por omissão contra a Assembleia Nacional.
Para sustentar a sua pretensão, os Requerentes alegam, em síntese, o seguinte:
A República de Angola declarou a sua independência no dia 11 de Novembro de 1975, perfazendo agora, aproximadamente, 50 anos de existência como Estado independente.
Na sua origem, apresentou-se a promessa de construção de um Estado democrático, capaz de corresponder a uma melhoria, tanto no bem-estar político e social, como nas formas de expressão da vontade soberana do povo angolano, quando comparado ao sistema colonial anterior.
Antes da independência nacional, existiam em Angola câmaras municipais e poder autárquico, havendo descentralização administrativa, ainda que não democrática, por não serem organismos electivos.
Não obstante as sucessivas Leis Constitucionais e a Constituição de 2010 consagrassem, desde 1975, as Autarquias Locais e o Poder Local na Angola independente, na realidade, nunca as Autarquias Locais foram implementadas, verificando-se um prolongar de vazio constitucional e político que perdura aproximada e incompreensivelmente há 50 anos.
Desde 1975, e mais concretamente desde 2010, têm sido recorrentes e injustificados os adiamentos, escusas, rodeios e sucessivos protelamentos, sem que, efectivamente, as Autarquias Locais sejam estabelecidas como realidade institucional do Estado democrático e de direito na República de Angola, ao serviço do Povo.
O País tem sido mantido num quadro de anormalidade constitucional, sem que a Requerida, Assembleia Nacional, por si e pela força política partidária que a comanda, realizem os actos necessários à concretização dos desígnios constitucionais relativos à organização do poder público-administrativo.
Dentre outros eventos, em 2007, o Presidente da República em funções anunciou um Plano de Normalização Constitucional, que consistia no cumprimento de uma agenda com três pontos, nomeadamente a realização de eleições legislativas em 2008, a realização de eleições presidenciais em 2009 e a realização de eleições autárquicas em 2010.
Na sequência, em 2008, foram realizadas as eleições legislativas, conforme indicado. Porém, não foram realizadas as anunciadas eleições presidenciais previstas em 2009. Em 2010, não foram igualmente realizadas as prometidas eleições autárquicas, invocando-se falta de legislação e condições materiais para o efeito.
Seguiu-se a aprovação da Constituição da República de Angola, em Fevereiro de 2010, com a qual se reiterou a consagração e promessa de autarquias locais e eleições autárquicas, agora, suficientemente estabelecidas no diploma fundamental.
Em 2012, foram realizadas as primeiras “eleições gerais” para eleger o Presidente da República e os Deputados à Assembleia Nacional, facto de notório conhecimento público, mas não foram realizadas as eleições autárquicas, nem concretizadas as Autarquias Locais prometidas, sob a mesma linha de argumento.
Nesta altura, o Senhor Ministro da Administração do Território chegou a prometer novamente a implementação das autarquias e a realização das eleições autárquicas, primeiramente para 2015 e depois 2021, sem qualquer materialização.
Em Março de 2014, visando dar cumprimento ao previsto no ordenamento constitucional e no seu manifesto eleitoral, o Grupo Parlamentar da UNITA apresentou a primeira iniciativa legislativa sobre o Poder Local, para ser aprovada pela Requerida.
Não obstante o proponente esperasse que tal desbloqueasse o processo que adia indefinidamente o cumprimento da Constituição da República de Angola em matéria autárquica, o Grupo Parlamentar do MPLA (contrariando inclusive a sua promessa eleitoral) reprovou o Projecto de Lei Orgânica do Sistema de Organização e Funcionamento do Poder Local, numa votação histórica, com 144 votos contra do MPLA e 31 votos a favor de toda a oposição (UNITA, CASA-CE, PRS e FNLA).
Em Maio de 2015, por meio da Resolução n.º 14/15 de 17 de Junho, a Assembleia Nacional aprovou o Plano de Tarefas Essenciais para a Preparação e Realização das Eleições Gerais e Autárquicas. Neste documento, foram identificadas e aprovadas oito tarefas essenciais para o efeito:
Preparação das condições técnicas e logísticas para a realização do registo eleitoral oficioso em todo o País.
Promoção da discussão e aprovação da legislação sobre a Administração Local do Estado e sobre o Poder Tradicional.
Promoção da discussão e actualização da legislação de suporte à realização das eleições gerais até ao 1.º Semestre de 2016.
Realização de um diagnóstico exaustivo sobre o estado actual dos recursos humanos, financeiros, infraestruturas e outros necessários à implementação das autarquias locais no País, até Agosto de 2015.
Promoção da realização do processo de delimitação territorial, definindo correctamente os limites territoriais de cada circunscrição autárquica e outros elementos necessários até ao 2.º Semestre de 2015.
Promoção da avaliação do potencial de arrecadação de receitas pelos municípios até ao 2.º Semestre de 2015.
Promoção da discussão e adopção da legislação de suporte à realização das eleições autárquicas (até Março de 2016).
Promoção de condições efectivas para a convocação das eleições autárquicas.
As referidas medidas não passaram de manobras diversivas de menor impacto, que não alteraram o quadro reclamado, deixando-se para trás as acções políticas e legislativas que verdadeiramente podiam determinar a implementação das autarquias locais.
Em 2018, o actual Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, anunciou a decisão de implementar as autarquias locais e realizar eleições autárquicas em 2020.
Em 2019, o Ministro da Administração do Território reiterou a decisão governamental de realizar as eleições autárquicas no ano de 2020.
Ainda em 2019, fazendo enganosamente crer que aconteceriam as eleições autárquicas, a Comissão Nacional Eleitoral elaborou, a pedido do Presidente da República, a Proposta Orçamental das Eleições Autárquicas para 2020, que remeteu junto com o seu Plano Para a Preparação, Organização e Realização das Eleições Autárquicas.
Realizaram-se as terceiras eleições gerais em Agosto de 2022. Na campanha eleitoral, o Presidente da República ressuscitou a promessa de realização de eleições autárquicas, desta vez para 2023 ou 2024.
Dois meses depois, no seu discurso sobre o estado da Nação, proferido no dia 15 de Outubro de 2022, o Presidente da República voltou a falar das autarquias, prometendo a criação de 35 assembleias autárquicas, mas sem referência a qualquer data da sua institucionalização. Anunciou, entretanto, a sua intenção de transformar comunas em municípios e nada mais.
Em Outubro de 2022, e por meio do Despacho Presidencial n.º 246/22, de 22 de Outubro, foi criada a Comissão Interministerial para a Elaboração e Implementação do Plano Integrado de Institucionalização das Autarquias Locais, na sequência do processo de desconcentração administrativa.
Nenhum trabalho relevante foi desenvolvido daí em diante, volvidos quase 3 anos, antes dizendo o Presidente da República que a responsabilidade residia na Requerida Assembleia Nacional, por não aprovar o diploma sobre a institucionalização das autarquias locais, quando como se sabe, lhe compete a direcção do seu partido na Assembleia Nacional.
No ano de 2023, o Presidente da República, que determina os actos finais produzidos pela Requerida, anunciou ser sua intenção “criar administrações municipais fortes para prestar serviços aos cidadãos”.
Para o efeito, sob o argumento de não existir legislação que lhe imponha a criação imediata das autarquias locais, anunciou a sua decisão de proceder a uma alteração da divisão política e administrativa do País, visando mais do que duplicar o número de municípios do País (criando 581 municípios e eliminando todas as comunas e distritos), sem, contudo, os transformar em pessoas colectivas territoriais autónomas, dotadas de personalidade jurídica, que possam “prestar serviços” aos cidadãos através de órgãos eleitos, como manda a Constituição.
Criou, para efeito, a Comissão Interministerial para a Alteração da Divisão Política e Administrativa do País, sob o assentimento institucional da Requerida, que subverteu a ordem de prioridade da agenda política e constitucional nacional.
A isso acresce a alegada e injustificada falta de meios materiais e humanos nos 164 municípios então existentes, para a efectiva materialização das autarquias.
Entretanto, em 2024, agindo em sentido inverso ao cumprimento da Constituição, o Titular do Poder Executivo apresentou mais uma iniciativa diversiva ao Parlamento angolano, no sentido de aumentar o número de municípios de 164 para 325, alterando a actual Divisão Político-administrativa, focando a sua actividade e a da Requerida em actos simples de confirmação e manutenção da Administração Local do Estado, em detrimento do processo autárquico.
Os Deputados subscritores entendem haver má-fé por parte da Requerida, com o impulso do Presidente da República, em aumentar o número de municípios ao invés de iniciar uma verdadeira reforma legislativa e administrativa, transformando todos os municípios em autarquias locais, com as correspondentes assembleias electivas, e definindo mecanismos, cronogramas e procedimentos para a sua concretização.
Nos anos citados, em especial entre 2017 e 2021, a Requerida foi ocupando a agenda política nacional com a aprovação de vários diplomas dilatórios, sem pretensão real de criar as Autarquias Locais e suas eleições.
Assim, foram aprovados 11 diplomas sobre o poder local, a saber: Lei Orgânica do Poder Local - Lei n.º 15/17, de 8 de Agosto, Lei da Tutela Administrativa sobre as Autarquias Locais - Lei n.º 21/19, de 20 de Setembro, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Autarquias Locais - Lei n.º 27/19, de 25 de Setembro, Lei Orgânica sobre as Eleições Autárquicas - Lei n.º 3/20, de 27 de Janeiro, Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais - Lei n.º 13/20, de 14 de Maio, Lei do Regime das Taxas das Autarquias Locais - Lei n.º 12/20, de 14 de Maio, Lei da Transferência de Atribuições e Competências do Estado para as Autarquias Locais – Lei n.º 22/20, de 10 de Julho, Lei Orgânica que aprova o Estatuto dos Eleitos Locais – Lei n.º 25/20, de 20 de Julho, Lei sobre o Regime Geral da Cooperação Interautárquica – Lei n.º 30/20, de 28 de Julho, Lei dos Símbolos das Autarquias Locais – Lei n.º 36/20, de 12 de Outubro, Lei Sobre os Actos e Formulários dos Órgãos das Autarquias Locais – Lei n.º 2/21, de 25 de Janeiro.
A Requerida não cumpriu com a sua obrigação de aprovar o diploma necessário à realização das autarquias locais, em cumprimento da Constituição, antes perdendo-se e sujeitando-se a actos parlamentares dirigidos pelo Partido MPLA, sem que se anteveja e avizinhe futuro próspero para os angolanos, em matéria autárquica.
Em momento posterior, dentre outras referências dispersas, a Lei Constitucional n.º 23/92, de 16 de Setembro, estabelecia o Poder Local em capítulo próprio (VII), consagrando que a organização do Estado a nível local devia compreender a existência de autarquias locais e de órgãos administrativos locais (artigos 145.º ss.).
A Constituição da República de Angola de 2010 dedicou diversas disposições à descentralização política e administrativa, ao Poder Local, à institucionalização das autarquias locais e das respectivas eleições (com destaque para os artigos 2.º, 8.º, 198.º, 198.º-A, 213.º, 214.º, 216.º, 217.º, 218.º, 219.º, 220.º, 221.º, 222.º, 242.º).
Não obstante o decurso de, aproximadamente, 50 anos de Independência Nacional, a imposição constitucional relativa ao Poder Local não tem sido respeitada pela Requerida, por si ou pelo poder governante, a quem competia a aprovação das disposições normativas indicadas expressamente no n.º 2 do artigo 242.º, CRA, susceptíveis de determinar a criação e instalação imediata das autarquias locais, para respeito e exercício de direitos fundamentais de participação política pelo Povo angolano.
A Constituição aponta para uma democracia descentralizada, proclamando, entre os "princípios fundamentais", o da autonomia das autarquias locais e o da descentralização democrática da administração pública, não sendo legítimo que a estrutura da administração seja reservada, em Angola, a órgãos da Administração Local do Estado.
Os Deputados subscritores da presente acção defendem que, sem uma Lei que institucionalize de modo efectivo as autarquias locais, que estabeleça imediatamente o seu cronograma de implementação, bem como a realização das eleições autárquicas com imposição ao Executivo do seu calendário, não será possível cumprir os comandos estabelecidos nas disposições constitucionais citadas.
As normas referentes ao Poder Local constituem o Direito Constitucional e Administrativo organizatórios e institucionais, que definem a estrutura do poder público-administrativo a nível local, sendo de cumprimento obrigatório, imediato e inadiável, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º, artigo 5.º, n.º 2 do artigo 6.º, artigos 8.º, 198.º, 198.º- A, 213.º ss. e artigo 226.º, todos da CRA.
O Tribunal Constitucional deve declarar a inconstitucionalidade por omissão naquelas situações em que a Constituição impõe que uma determinada norma deva existir no ordenamento jurídico, mas o legislador ordinário, com competência para legislar, é inerte, mesmo diante do carácter imperativo de tal disposição, permanentemente adiada. Esta é a situação da lei que está prevista no n.º 2 do artigo 242.º da CRA.
É deste ambiente político-institucional que surge a necessidade de a Assembleia Nacional velar pelo cumprimento da Constituição e pela boa execução das leis já aprovadas, a fim de se organizar democraticamente o Estado a nível local, de forma a partilhar com os cidadãos organizados em autarquias os recursos públicos necessários para a prestação de serviços públicos locais, de acordo com os princípios da descentralização político-administrativa e da autonomia local.
Podem, nos termos do n.º 1 do artigo 232.º da CRA, requerer ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade por omissão o Presidente da República, um quinto dos Deputados em efectividade de funções (i.e., um mínimo de 44 Deputados) e o Procurador-Geral da República.
A presente acção é requerida por mais de um quinto de Deputados em efectividade de funções.
Dispõem ainda os artigos 31º e 32.º da LPC que pode ser requerida, mediante fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, a apreciação do não cumprimento da Constituição por omissão das medidas necessárias para tornar exequíveis as normas constitucionais, nomeadamente de medidas de natureza legislativa.
Terminam requerendo que a presente acção seja julgada provada e procedente e, em consequência, seja declarada a existência de inconstitucionalidade por omissão, por violação do previsto no n.º 2 do artigo 242.º, conjugado com os artigos 213.º a 222.º, n.º 1 do artigo 2.º, artigo 8.º, n.º 1 do artigo 198.º e artigo 198.º-A, todos da CRA.
Notificada a Requerida para se pronunciar, veio a mesma, contra-alegar, em síntese, que:
As Autarquias Locais configuram uma forma de organização da administração pública autónoma, além de ser um mecanismo de concretização de direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, tais como o direito a participação na vida pública, o direito de acesso a cargos públicos e o direito de sufrágio, previstos nos artigos 52.º, 53.º e 54.º, respectivamente, da Constituição da República de Angola.
A Constituição da República de Angola trata do regime jurídico-constitucional mínimo das Autarquias Locais, limitando-se a consagrá-las como uma das formas organizativas do Poder Local (artigo 213.º), prevê o princípio da autonomia local de que dispõem (artigo 214.º), a sua garantia judicial (artigo 216.º), a sua definição (artigo 217.º), a sua classificação ou categorias (artigo 218.º), as suas atribuições (artigo 219.º), os seus órgãos (artigo 220.º), o tipo de relação administrativa que mantêm com o Poder Executivo (artigo 221.º), bem como a solidariedade e cooperação entre si (artigo 222.º).
Tendo em conta a complexidade do processo de institucionalização das Autarquias Locais, o legislador constituinte angolano optou por condicionar a sua efectiva implementação com a aprovação da lei própria e a oportunidade da sua criação, vide n.º 2 do artigo 242.º da Constituição da República de Angola.
A norma constitucional, ao estabelecer lei própria, remeteu ao legislador ordinário a sua concretização, sendo certo que a implementação efectiva das Autarquias Locais depende de, pelo menos, três níveis de concretização política.
Nível de concretização político-legislativa – que corresponde à aprovação da Lei da Institucionalização das Autarquias Locais pela Assembleia Nacional, mediante proposta ou projecto de lei submetida por quem tem legitimidade constitucional para o efeito, conforme as disposições conjugadas do artigo 167.º e do n.º 2 do artigo 242.º, ambos da Constituição da República de Angola.
Nível de concretização política stricto sensu – que consiste na decisão política de convocar as eleições autárquicas pelo Presidente da República, na qualidade de Chefe de Estado, conforme a alínea a) do artigo 119.º da CRA.
Nível de concretização político-administrativa que consiste na oportunidade de criação de medidas administrativas, humanas e financeiras necessárias para o efectivo funcionamento das Autarquias Locais. Trata-se da “oportunidade da sua criação”, pressuposto previsto no n.º 2 do artigo 242.º da CRA.
Por força do princípio da separação de poderes, não compete à Assembleia Nacional pronunciar-se sobre a concretização ou não dos dois últimos níveis, por se tratar de matéria de exclusiva competência do Presidente da República, enquanto Chefe de Estado e Titular do Poder Executivo, que tem o mandato do Povo e a incumbência constitucional de definir a política geral de governação do país e da administração pública, nos termos da alínea b) do artigo 120.º da CRA.
Não é difícil compreender que, no n.º 2 do artigo 242.º da CRA, se está perante uma norma constitucional que só se torna exequível com a intervenção do legislador ordinário, sendo, pois, uma norma de eficácia limitada ou condicionada, na medida em que a sua plena eficácia está dependente da intervenção legislativa infraconstitucional e administrativa.
Ademais, não é verdade que, no quadro das suas competências, a Assembleia Nacional não haja realizado os actos necessários à concretização dos desígnios constitucionais tendentes a institucionalização das Autarquias Locais.
Em 2015, no decurso da 2.ª Sessão Legislativa da 3.ª Legislatura, através da Resolução n.º 14/15, de 17 de Junho, a Assembleia Nacional aprovou o Plano de Tarefas Essenciais para Preparação e Realização das Eleições Gerais e Autárquicas.
De 2017 a 2021, durante a 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª Sessões legislativas da 4.ª Legislatura, a Assembleia Nacional procedeu a aprovação do seguinte pacote legislativo autárquico: Lei Orgânica do Poder Local – Lei n.º 15/17, de 8 de Agosto, Lei da Tutela Administrativa sobre as Autarquias Locais – Lei n.º 21/19, de 20 de Setembro, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Autarquias Locais – Lei n.º 27/19, de 25 de Setembro, Lei Orgânica sobre as Eleições Autárquicas – Lei n.º 3/20, de 27 de Janeiro, Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais – Lei n.º 13/20, de 14 de Maio, Lei do Regime das Taxas das Autarquias Locais – Lei n.º 12/20 de 14 de Maio, Lei da Transferência de Atribuições e Competências do Estado para as Autarquias Locais – Lei n.º 22/20, de 10 de Julho, Lei sobre o Regime Geral da Cooperação Interautárquica – Lei n.º 30/20, de 28 de Julho, Lei dos Símbolos das Autarquias Locais – Lei n.º 36/20, de 12 de Outubro, Lei sobre os Actos e Formulários dos Órgãos das Autarquias Locais – Lei n.º 2/21, de 25 de Janeiro.
Em 2024, durante a sua 5.ª Reunião Plenária Ordinária da 2.ª Sessão Legislativa da 5.ª Legislatura, realizada no dia 23 de Maio, depois de votados favoravelmente (por 40 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção) os correspondentes Relatórios Pareceres Conjuntos das Comissões de Trabalho Especializadas, competentes em razão da matéria, na reunião conjunta do dia 14 de Maio, a Assembleia Nacional procedeu à aprovação de um Projecto de Lei e uma Proposta de Lei, nomeadamente a Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais, submetida pelo Titular do Poder Executivo, através do Ofício n.º 0598/GAB.CHEFECASACIVIL/PR/06/2024, de 1 de Abril, já aprovada, na generalidade, por 93 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção e o Projecto de Lei da Institucionalização Efectiva das Autarquias Locais, submetido pelo Grupo Parlamentar da UNITA por via do Ofício n.º 020-A/GPGPU-V-L/2024, de 22 de Abril, já aprovado, na generalidade, por 95 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção.
Face à aprovação, na generalidade, dos documentos acima referidos a Assembleia Nacional por via das Comissões competentes em razão da matéria, agendou e convocou uma reunião para discussão e votação na especialidade. Entretanto o Grupo Parlamentar da UNITA por intermédio da sua Vice-Presidente, a Senhora Deputada Albertina Navemba Ngolo Felisberto, solicitou a interrupção da sessão.
A solicitação em causa assentou em argumentos segundo os quais a pertinência da matéria, a existência de duas iniciativas legislativas, as visões comuns e fracturantes e a necessidade de se aproximar as posições impunham que fosse criada uma comissão técnica de trabalho composta por Deputados das duas maiores bancadas parlamentares, com o fito de, a partir das duas iniciativas, criar-se um único documento.
A Assembleia Nacional tem pautado pela busca de consensos entre os representantes do povo, uma missão difícil, mas não impossível, procurando encorajar os lídimos representantes do povo na busca de soluções legislativas que congreguem as várias ideias legitimadas pelo mesmo.
A retirada do Projecto e da Proposta da Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais da discussão na especialidade, deveu-se a uma solicitação dos Requerentes, pelo que estranhamos que, em momento algum, tenha feito menção a este facto no seu requerimento. Arguir que a Assembleia Nacional esteja em colisão com a Constituição da República de Angola roça a má-fé.
Pelos actos legislativos praticados pela Requerida e estando em curso o processo legislativo do projecto e da proposta de lei supracitados em sede da especialidade, não se deve considerar verificada a omissão constitucional, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 232.º da CRA.
Uma vez aprovados o projecto e a proposta de lei, na generalidade, deu-se início à fase instrutória do processo legislativo conducente à fase constitutiva da formação da vontade deste órgão de soberania, sendo isso suficiente para afastar uma eventual omissão constitucional.
Além de inúmeras acções já realizadas durante as legislaturas passadas, não há dúvidas de que o decurso do processo legislativo demonstra vontade e interesse da Assembleia Nacional em preencher o vazio legal existente.
Termina requerendo que esta Corte Constitucional declare improcedente o pedido de fiscalização de omissão inconstitucional.
O processo foi à vista do Ministério Público.
Colhidos os vistos legais, cumpre, agora, apreciar para decidir.
II. COMPETÊNCIA
O Tribunal Constitucional tem competência para conhecer e apreciar processos de fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, conforme as disposições combinadas da alínea c) do artigo 3.º e do artigo 31.º, ambos da LPC, bem como da alínea c) do artigo 16.º da Lei n.º 2/08, de 17 de Junho, Lei Orgânica do Tribunal Constitucional (LOTC).
III. LEGITIMIDADE
Os Requerentes são Deputados à Assembleia Nacional e, conforme se verifica a fls. 2 e 3 dos autos, perfazem um total de 49 subscritores, número que satisfaz o requisito legal de legitimidade para a propositura da presente acção de inconstitucionalidade por omissão, nos termos das disposições combinadas do n.º 1 do artigo 232.º da CRA e da alínea b) do artigo 32.º da LPC.
IV. OBJECTO
O presente processo de fiscalização de inconstitucionalidade por omissão tem por objecto a verificação da existência ou não de inconstitucionalidade por omissão imputada à Assembleia Nacional, por alegada violação do preceito estabelecido no n.º 2 do artigo 242.º da Constituição da República de Angola.
V. APRECIANDO
Os Requerentes, Deputados à Assembleia Nacional vêm, por meio da presente acção de fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, requerer a declaração de inconstitucionalidade por omissão contra a Assembleia Nacional, pela inacção, silêncio e inércia desta no cumprimento do dever constitucional de legislar, no âmbito do pacote legislativo autárquico, relativamente à Lei da Institucionalização Efectiva das Autarquias Locais, a qual permanece, indefinidamente, a aguardar que a Requerida a submeta à discussão, aprovação na especialidade e votação final global.
Sustentam os Requerentes que a omissão legislativa verificada consubstancia uma violação material da Constituição, nomeadamente do preceito que consagra o princípio da efectivação do poder local autárquico e da realização do Estado de direito democrático.
Veja-se se assiste razão aos Requerentes.
Na ordem jurídica angolana, o instituto da inconstitucionalidade por omissão está consagrado no artigo 232.º da Constituição e encontra as regras relativas à tramitação adjectiva da respectiva fiscalização nos preceitos previstos nos artigos 31.º, 32.º, 33.º, 34.º e 35.º, todos da Lei do Processo Constitucional.
A CRA não apresenta um conceito de inconstitucionalidade por omissão, tendo estabelecido, somente, os entes com competência para desencadear o respectivo processo de fiscalização junto deste Tribunal, bem como os efeitos da sua verificação e consequente declaração.
Tal como atestam Carlos Feijó e outros “(…) a Constituição não define nem prescreve o que seja a inconstitucionalidade por omissão, limitando-se apenas a descrever o procedimento do seu conhecimento, a questão a deslindar é a de saber quando é que estamos perante um dever jurídico-constitucional de legislar.” (Carlos FEIJÓ et al., A Constituição da República de Angola: Enquadramento Dogmático- A nossa Visão, Volume III, ano 2015, p. 583).
Para que este Tribunal se possa pronunciar sobre a alegada inconstitucionalidade por omissão supra referida, torna-se imperioso, antes de mais, proceder à análise do instituto jurídico da fiscalização de inconstitucionalidade por omissão, previsto na Constituição da República de Angola e da natureza da norma cuja legitimidade constitucional é questionada (artigo 242.º da CRA), bem como compreender, à luz da Constituição e da lei, a dimensão e o alcance do poder discricionário do Parlamento, enquanto expressão da vontade soberana do povo.
Fiscalização de inconstitucionalidade por omissão na CRA
Carlos Blanco de Morais define a inconstitucionalidade por omissão “(…) como a abstenção de um órgão do Estado Colectivo em cumprir com deveres ou obrigações activas que lhe sejam imperativamente determinados pela Constituição”, acrescentando que “(…) ao não assumir um comportamento positivo, traduzido na emissão de um acto jurídico ao qual se encontre constitucionalmente vinculado, esse órgão viola um dever de actuação que o faz incorrer em inconstitucionalidade material por omissão” (Justiça Constitucional, Tomo II. O Direito do Contencioso Constitucional, 2.ª ed., Coimbra Editora, 2011, p. 497).
Não se trata, assim, de um simples não agir entendido em sentido amplo, mas, especificamente, da não emissão de actos legislativos que, em múltiplas circunstâncias, se revelam indispensáveis à plena aplicação de preceitos constitucionais, funcionando a sua ausência como verdadeira condição suspensiva da respectiva eficácia (José de Matos CORREIA, Introdução ao Direito Processual Constitucional, UL Editora, Lisboa, 2011, p. 179).
Nesta perspectiva, cumpre assinalar que a inconstitucionalidade por omissão legislativa ocorre quando o Parlamento, por via da sua inacção, deixa de cumprir um comando constitucional que o vincula à produção legislativa. Em tais circunstâncias, o legislador, ao desrespeitar ou não obedecer a um mandato específico que imponha a criação ou emissão de uma norma legislativa, infringe o princípio da supremacia da Constituição.
Um exemplo clássico verifica-se quando as disposições transitórias de um diploma de revisão constitucional que instruam o legislador ordinário a, dentro de determinado prazo, modificar ou criar legislação ordinária destinada a tornar plenamente eficazes as novas normas constitucionais, este não cumpre tal imposição. Todavia, embora este seja o caso mais frequente, é igualmente admissível que o legislador viole a Constituição por via da sua inactividade legislativa, mesmo na ausência de um mandato constitucional expresso. Tal sucede quando a omissão – ainda que não constitua uma violação directa de uma norma constitucional – produz efeitos jurídicos que colidem com os princípios fundamentais da ordem constitucional ou com os direitos fundamentais nela consagrados.
Deste modo, a omissão legislativa pode implicar violação constitucional por duas vias distintas: a) quando existe um mandato constitucional explícito que impõe a criação ou modificação de normas e o legislador não lhe dá cumprimento; b) quando, mesmo na ausência de um mandato expresso, a omissão legislativa gera consequências normativas lesivas de direitos fundamentais, configurando, assim, a violação de um mandato constitucional implícito, dirigido aos órgãos competentes para a aprovação das leis necessárias à prossecução do bem-estar geral.
Dito de outro modo, poderá verificar-se a inconstitucionalidade por omissão sempre que se confirmem cumulativamente os seguintes elementos: (i) a existência de uma omissão legislativa, traduzida numa lacuna ou inércia normativa; (ii) a natureza imperativa da disposição constitucional em causa – nomeadamente o artigo 242.º da CRA – impondo a mesma um dever concreto de legislar; (iii) a efectividade de uma limitação ao poder discricionário do legislador; e, por fim, (iv) tratando-se de uma decisão de tipo declarativo, com efeitos manipulativos, aditivos ou intermédios, a ponderação, por parte da Assembleia Nacional, dos princípios da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade desproporcional entre os interesses tutelados, os que obstam à sua concretização e os direitos fundamentais consagrados na CRA.
As omissões podem ser diferenciadas das lacunas porque, ao contrário destas últimas, são consideradas inadimplementos de uma obrigação. A sua assimilação aos casos de disposição negativa poderia conduzir a uma segunda razão de diferença: as lacunas poderiam verificar-se de modo involuntário, enquanto as omissões são o resultado de uma vontade deliberada. Como salienta a conhecida tese de Donati, segundo a qual o silêncio do legislador implica sempre o propósito deliberado de deixar a matéria não regulada sob o signo da liberdade. Essencial é, porém, a diferença constituída pelo facto de que uma sentença reparadora de uma lacuna esgota a sua função de complemento do ordenamento jurídico, enquanto aquelas que declaram a inconstitucionalidade de uma omissão podem ser, por sua vez, fonte de outras lacunas (Cfr. Constantino MORTATI, Appunti per uno studio sui remedi giurisprudenziali contro comportamenti omissivi del Legislatore in: Monografie e Verità: Il Foro Italico, Vol. XCIII – Parte V-II. Pp. 153 – 154).
Neste contexto, revela-se oportuno compreender o próprio conceito de omissão, o qual, de forma genérica, abrange toda a espécie de abstenção em legislar ou regulamentar aquilo que, segundo a Constituição, deveria ter sido objecto de disposição normativa. Tal compreensão é fundamental para se poder delinear os diversos tipos de omissão em que esta se pode manifestar.
A este propósito, Uwe Wessel apresentou uma classificação segundo a qual é necessário distinguir, por um lado, as omissões absolutas, que ocorrem quando não existe qualquer previsão normativa sobre determinada matéria; e, por outro, as omissões relativas, resultantes de implementações parciais, nas quais a disciplina normativa é estabelecida apenas para algumas relações jurídicas, excluindo outras que lhes são análogas. (Cf. Uwe WESSEL, Die Rechtsprechung der B.V.G. zur Verfassungsbeschwerde, in: Deutsches Verwaltungsblatt, 1952, pp. 161 ss).
Na ordem constitucional angolana, a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão assume, conforme estabelecido no artigo 232.º da Constituição da República de Angola (CRA), contornos profundamente distintos dos mecanismos de controlo abstracto e de fiscalização concreta, ambos inseridos na categoria da inconstitucionalidade por acção. Com efeito, enquanto estes visam aferir a conformidade constitucional (e, nalguns casos, legal) de normas ou actos, a apreciação da inconstitucionalidade por omissão tem por objecto a análise da existência de uma lacuna normativa, ou, de uma inércia deliberativa.
Esta forma de fiscalização incide sobre o incumprimento da Constituição por ausência das medidas necessárias à exequibilidade de normas constitucionais, designadamente, medidas de natureza legislativa ou regulamentar. Dito de outro modo, o objecto da fiscalização não são quaisquer actos negativos do Estado (sejam eles dos poderes Executivo ou Legislativo), mas sim, a ausência de legislação que viabilize a concretização dos princípios, direitos e valores consagrados na CRA (vide Onofre dos Santos, Lei do Processo Constitucional Anotada, Texto Editores, Luanda, 2016, p. 39).
Cumpre reiterar que, em Angola, a Constituição restringe o âmbito da fiscalização da inconstitucionalidade por omissão exclusivamente às omissões legislativas, ao contrário de outras ordens jurídicas que admitem, igualmente, omissões de actos normativos do Governo, da Administração Pública ou mesmo do Poder Judicial. Na realidade angolana, circunscreve-se às disposições legislativas, não por aquilo que dizem, mas por aquilo que não dizem, remediando assim a inconstitucionalidade, não de actos, mas do non facere, do silêncio do legislador.
Como refere Adlezio Agostinho, a Constituição, ao prever a verificação da inconstitucionalidade por omissão, limita claramente o seu alcance às omissões legislativas, não permitindo a extensão do instituto a outros actos normativos (cf. Manual de Direito Processual Constitucional. Princípios Doutrinários e Procedimentais sobre as Garantias Constitucionais. Parte Geral & Especial, AAFDL, Lisboa, p. 739).
No mesmo sentido, Raul Araújo, Elisa Rangel e Marcy Lopes defendem que “no processo de verificação da inconstitucionalidade por omissão, o Tribunal Constitucional averigua, num primeiro momento, se existe um dever jurídico imposto pela Constituição que deva ser cumprido por determinado órgão e este o não tenha cumprido, ou se a aplicação de determinada norma constitucional exige a intervenção do legislador ordinário. Num segundo momento, o Tribunal aprecia se não existe o acto concretizador da orientação constitucional ou, existindo, se este é suficiente, adequado e exequível” (Constituição da República de Angola Anotada, Tomo II, p. 810).
Da leitura conjugada do artigo 232.º da CRA e dos artigos 31.º e seguintes da Lei do Processo Constitucional (LPC), infere-se que a inconstitucionalidade por omissão pode manifestar-se sob a forma de uma lacuna ou de uma inércia legislativa. Com efeito, a CRA impõe comandos que podem ser explícitos ou implícitos e, quando o órgão legislativo se abstém de os concretizar – incumprindo ordens emanadas da Constituição (a remé obbligate) – e o tempo passa sem que tal obrigação se concretize, configura-se, em termos hipotéticos, uma omissão inconstitucional, a qual pode ser total ou parcial.
A lacuna ocorre quando há um vazio normativo – que não viola necessariamente a Constituição – mas compromete a completude e a coerência do ordenamento jurídico. Tal situação pode ser equiparada ao princípio do non liquet no âmbito judicial, em que o juiz, não podendo recusar a decisão de um caso, deve suprir a lacuna através da analogia, do costume (quando aplicável) ou da norma que o próprio criaria se houvesse de legislar dentro do espírito do sistema, tendo em conta os princípios gerais de Direito.
As lacunas podem também traduzir um silêncio do legislador, na medida em que este, deliberadamente, opta por não regular determinada matéria, o que, neste caso, se enquadra dentro da sua margem de discricionariedade legislativa. É o caso, desde logo, da ausência de norma incriminadora que tipifique como crime determinada conduta.
A inércia legislativa, por sua vez, verifica-se quando a Assembleia Nacional se abstém de prosseguir o processo legislativo (deliberação e votação), mantendo-se a norma pendente ad aeternum, aguardando a sua conclusão.
Isso significa que a inércia legislativa se transforma em omissão inconstitucional somente se o incumprimento constituir violação à Constituição. E significa, sobretudo, a negação da ideia de soberania absoluta do Parlamento (como tal, inclusive da liberdade de não agir) e reafirmar, mesmo em relação ao poder legislativo, a inelutabilidade e o valor máximo dos bens tutelados pela Constituição, em garantia dos quais opera o sistema de controles recíprocos entre os órgãos constitucionais supremos (checks and balances).
Quanto aos efeitos, a Constituição da República de Angola, determina que, verificada a inconstitucionalidade por omissão, o Tribunal Constitucional deve dar conhecimento do facto ao órgão legislativo competente para a produção do acto legislativo devido. Impõe-se, portanto, o proferimento de uma decisão declarativa.
Portanto, são decisões jurisdicionais que não implicam necessariamente a adopção de sanções ou operações substantivas. Tratando-se, pois, de uma decisão com efeito meramente declarativo, correspondente ao que a doutrina italiana qualifica como raccomandazioni legislative (recomendações legislativas), podendo, contudo, envolver uma mensagem mais forte ao legislador em mora (a título de recomendação) a fim de reparar o silêncio inconstitucional.
Assim, analisado o sentido e o alcance do regime de fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, impõe-se, agora, a análise do preceito contido no artigo 243.º da CRA.
Natureza normativa do artigo 242.º da CRA
Toda a disposição jurídica configura uma proposição de natureza normativa, isto é, uma regra formulada em termos gerais e abstractos, destinada a reconhecer, autorizar impor ou proibir determinadas condutas de uma comunidade política situada num determinado território.
Importa sublinhar que a inconstitucionalidade por omissão legislativa tem a sua génese no facto de nem todas as normas constitucionais serem directamente aplicáveis ou autoexecutáveis. Muitas dessas normas, em especial as de natureza programática, possuem eficácia diferida, exigindo, para a sua plena operatividade, a produção de legislação complementar ou de desenvolvimento por parte do legislador ordinário.
Outrossim, a obrigação constitucional de legislar pode, também, decorrer de um mandato explícito da Constituição, que imponha ao legislador a edição de determinada norma jurídica, eventualmente dentro de um prazo certo e determinado. Nesses casos, a inércia legislativa, uma vez decorrido o prazo fixado sem a respectiva publicação do diploma legal, configura uma contradição material com a Constituição, podendo dar lugar à declaração de inconstitucionalidade por omissão.
De acordo com a doutrina constitucional, as normas constitucionais podem ser classificadas conforme o seu grau de aplicabilidade e eficácia jurídica, distinguindo-se, essencialmente, três categorias: a) normas programáticas (ou directivas), que delineiam apenas os objectivos gerais a alcançar no futuro; b) normas preceptivas de efeito imediato, que estabelecem princípios ou regras com validade e aplicabilidade imediatas; c) normas preceptivas de efeito diferido, cuja aplicação depende de regulamentação legislativa posterior. Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª ed., Coimbra Editora, 2007, p. 194 ss.; Vezio CRISAFULLI, Le norme programmatiche della Costituzione, in AA. VV., Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Giuffrè, Milano, 1952, p. 59 ss.; Jorge MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 6.ª ed., Coimbra Editora, 2010; José Carlos Vieira DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 4.ª ed., Almedina, 2010, p. 143 ss.; Costantino MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, 1991, p. 291 ss).
Por normas programáticas (ou directivas), se entendem aquelas que traçam linhas orientadoras da acção do Estado, estabelecendo objectivos e metas a serem alcançados progressivamente. Estas normas não produzem efeitos jurídicos imediatos, mas funcionam como mandatos de optimização, vinculando o legislador e os demais poderes públicos à sua realização futura, mediante a edição de legislação infra constitucional. Fazem parte deste grupo as normas que preveem o dever de promoção da justiça social ou da descentralização administrativa como tarefas fundamentais do Estado.
As normas programáticas (ou directivas) são aquelas: (i) que são de aplicação diferida; (ii) que explicitam comandos valores; (iii) que conferem elasticidade ao ordenamento constitucional; (iv) e que têm como destinatário primacial o legislador a cuja opção fica a ponderação do tempo e dos meios que têm de ser revestidos de plena eficácia e, por isso, só através da lei adquirem determinabilidade (cfr. Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 6.ª ed., Coimbra Editora, p. 285).
Essas normas distinguem-se pela sua eficácia diferida, uma vez que não são de aplicação imediata, dependendo a sua concretização da verificação de determinadas condições, designadamente de natureza legislativa, económica ou social. Trata-se de normas que consagram valores, objectivos e metas a alcançar, funcionando como directrizes para a acção futura dos órgãos do Estado, em especial do Poder Legislativo.
A sua força normativa reside na primazia constitucional sobre as demais fontes de direito, ainda que não vinculem directamente os particulares, mas sim os poderes públicos. Esta natureza confere-lhes flexibilidade e elasticidade, permitindo uma adaptação progressiva à realidade mediante a ponderação legislativa quanto ao momento e aos meios adequados à sua concretização.
Frequentemente redigidas com recurso a conceitos indeterminados, estas normas exigem, para a sua plena eficácia, desenvolvimento legislativo e medidas materiais complementares.
São normas preceptivas de eficácia plena e imediata as que correspondem a disposições autoaplicáveis, que têm aplicabilidade directa desde a entrada em vigor da Constituição. São normas completas, independentes de regulamentação posterior e que produzem efeitos jurídicos imediatos. São exemplo deste tipo de normas constitucionais as normas que consagram direitos fundamentais como o direito à vida, à liberdade de expressão, entre outras.
Por normas preceptivas de eficácia limitada ou diferida se entende todas aquelas normas que, apesar de conterem comandos vinculativos, dependem de regulamentação legislativa ulterior para produzir todos os seus efeitos. Têm um núcleo normativo válido, mas a sua aplicabilidade encontra-se condicionada à actuação legislativa. A omissão do legislador pode, nesses casos, configurar inconstitucionalidade por omissão, sobretudo quando o texto constitucional impõe um dever específico de legislar (Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª ed., Coimbra Editora, 2007, p. 194 ss.; Vezio CRISAFULLI, Le norme programmatiche della Costituzione, in AA. VV., Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Giuffrè, Milano, 1952, p. 59 ss.; Jorge MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 6.ª ed., Coimbra Editora, 2010; José Carlos Vieira DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 4.ª ed., Almedina, 2010, p. 143 ss.; Costantino MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, 1991, p. 291 ss).
Em contraste com as normas de natureza programática, as normas preceptivas possuem aplicabilidade imediata, sendo eficazes desde a entrada em vigor da Constituição. A distinção entre normas programáticas e preceptivas assenta, portanto, na possibilidade de conformação directa da realidade pela norma constitucional. Enquanto as primeiras consagram expectativas jurídicas, cuja efectivação depende de actos ulteriores do legislador, as segundas contêm comandos normativos plenamente operativos, susceptíveis de aplicação judicial sem necessidade de regulamentação adicional.
No caso sub judice, a expressão “a institucionalização efectiva das Autarquias Locais é definida por lei, que estabelece a oportunidade da sua criação” exprime uma faculdade de exercício potestativo o que não implica, evidentemente, um imperativo ou comando, mas uma possibilidade estabelecida pela Constituição de criar, alargar normas gerais, de modo que os referidos órgãos possam decidir em que tempo poderão exercer tal poder. Portanto, o Parlamento decide livremente sobre o modo, termos e prazos da criação dos dispositivos normativos.
Ademais, há uma remissão à lei infraconstitucional “a institucionalização efectiva das Autarquias é definida por lei que estabelece (…)”. Ou seja, depende de legislação futura para ter eficácia plena. A norma não impõe um dever directo de aplicação imediata, mas apenas define a forma e os parâmetros para que se atinja, no futuro, a efectiva institucionalização das autarquias locais. Em suma, não tem eficácia plena ou imediata; remete à futura actuação legislativa e administrativa e estabelece directrizes e objectivos, e não comandos concretos e auto executáveis.
Roberty Alexy, no epílogo da sua Teoria dos Direitos Fundamentais sublinha que o legislador dispõe, seja de uma margem de acção estrutural, relativa a tudo o que a Constituição não proíbe e não impõe, seja de uma margem de acção epistemológica, que deriva da dificuldade de reconhecer o que a Constituição proíbe ou impõe (Theorie der Grundrechte, Berlin: Suhrkamp, 1986, pp. 21 ss).
A distinção entre normas programáticas, normas de eficácia plena e normas de eficácia limitada é fundamental para a correcta compreensão da aplicação das disposições constitucionais.
No contexto angolano, a análise do artigo 242.º da CRA, tanto na sua redacção originária, como na que resultou da revisão de 2021, indica tratar-se de uma norma programática com eficácia diferida, cuja concretização depende de regulamentação legislativa ordinária.
A Constituição da República de Angola, na versão originária de 2010, consagrava a institucionalização das autarquias no seu artigo 242.º, no qual estabelecia:
“A institucionalização efectiva das autarquias locais obedece ao princípio do gradualismo.
Os órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da sua criação, o alargamento gradual das suas atribuições, o doseamento da tutela de mérito e a transitoriedade entre a administração local do Estado e as autarquias locais”.
Da leitura do n.º 2 deste preceito, na parte em que estabelece que “os órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da sua criação”, resultava, com clareza, estar-se perante uma norma de natureza programática. Esta disposição exprimia uma directriz de política legislativa e administrativa, remetendo a sua concretização para a actuação futura das entidades competentes, não estabelecendo, por conseguinte, comandos jurídicos dotados de eficácia imediata.
Tal versão configurava uma faculdade de exercício potestativo. Isso significa que a sua implementação não correspondia a uma imposição imperativa, mas antes a uma possibilidade concedida pela Constituição aos órgãos do Estado — nomeadamente, o Governo e a Assembleia Nacional — de decidir, à luz de critérios de oportunidade política e de condições materiais, se, quando e como exercer tal poder normativo. Nessa medida, os órgãos competentes mantinham liberdade quanto ao modo, aos termos e aos prazos da criação dos correspondentes dispositivos legais destinados à institucionalização das autarquias locais, em consonância com os princípios da discricionariedade política e da separação de poderes.
A norma fornece um aspecto político-social, tem uma direcção para os legisladores e administradores públicos, estabelecendo princípios de transição, descentralização e autonomia administrativa, mas não são efectivos por si só. O legislador constituinte derivado, faz uso de expressões típicas de norma programática “(...) a oportunidade da sua criação, o alargamento gradual das suas atribuições, o doseamento da tutela de mérito e a transitoriedade (...)”. Esses termos revelam um processo de implementação progressiva, sem imposição jurídica concreta e imediata. Estão condicionados a critérios de conveniência e oportunidade política, e não configuram direitos subjectivos directamente exigíveis pelos cidadãos (vide José Afonso da Silva, Aplicabilidade das normas constitucionais, 7.ª ed. 2.ª tir. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 80 e 81).
Com o advento da Revisão Constitucional operada pela Lei n.º 18/21, publicada no Diário da República n.º 154, de 16 de Agosto de 2021, e que alterou, entre outros, o artigo 242.º da Constituição, o legislador constituinte derivado manteve, de forma inequívoca, a referida disposição na mesma categoria de normas programáticas, reafirmando a natureza não autoaplicável do preceito. A norma continua, assim, a depender de densificação legislativa futura, permanecendo no domínio das decisões discricionárias do legislador ordinário quanto à sua concretização.
(Institucionalização Efectiva das Autarquias Locais)
[Revogado].
A institucionalização efectiva das Autarquias Locais é definida por lei, que estabelece a oportunidade da sua criação e o alargamento das suas competências.
O legislador constituinte derivado, ao estabelecer que “a institucionalização efectiva das Autarquias Locais é definida por lei, que estabelece a oportunidade da sua criação e o alargamento das suas competências”, embora tenha mantido a natureza programática da norma, atribui expressamente ao Parlamento, enquanto órgão legiferante por excelência, a possibilidade e a faculdade de aprovar o diploma legislativo (o denominado Pacote Legislativo) que venha a definir os critérios de oportunidade para a criação das autarquias, bem como o alargamento das suas competências.
Com essa nova formulação, introduzida pela Lei n.º 18/21 – Lei de Revisão Constitucional, o legislador constituinte derivado afastou a anterior interdependência entre a legislação e as condições materiais de criação, transferindo para a lei ordinária a incumbência de densificar os critérios e parâmetros necessários para a efectiva institucionalização das autarquias locais.
A norma não consagra, portanto, um dever de aplicação directa e imediata, mas sim uma obrigação de configuração legislativa futura, cuja concretização se encontra sujeita à discricionariedade política do Parlamento no âmbito do processo legislativo ordinário. Dito de outro modo, a efectivação das autarquias locais permanece dependente da aprovação de legislação específica que, por sua vez, deverá estabelecer as balizas materiais, temporais e organizacionais necessárias para a sua concretização.
Por conseguinte, o artigo 242.º da CRA tem natureza de norma programática, não apresentando, no seu conteúdo, uma obrigatoriedade imediata da sua densificação infra-constitucional, valendo, no caso, o poder discricionário da racionalidade legislativa a partir da ponderação dos interesses e necessidades colectivas.
Deste modo, a única via pela qual se poderá confirmar a existência de inconstitucionalidade legislativa por omissão será a verificação, por parte do autor da omissão, demonstração da existência de um mandato constitucional claro e vinculativo ao legislador e eventual violação concreta de um direito fundamental, como resultado desta omissão. Tal conclusão só poderá ser alcançada mediante uma análise teleológica, ponderativa e valorativa dos interesses tutelados, entre o poder discricionário da Assembleia Nacional e os direitos fundamentais em causa, nos casos de comprovada inércia legislativa.
O Poder discricionário da Assembleia Nacional e a inconstitucionalidade por omissão
Dos autos se extrai que, no exercício das competências constitucionalmente atribuídas à Assembleia Nacional, foram praticados diversos actos legislativos e administrativos tidos como indispensáveis à efectivação do processo de institucionalização das Autarquias Locais, em conformidade com os princípios da descentralização administrativa, da autonomia local e da subsidiariedade, consagrados na CRA.
Importa, ainda, aduzir que, quer os Requerentes, quer a Requerida, reconhecem que foram apreciados e aprovados um conjunto de normativos infraconstitucionais, tendentes à institucionalização das Autarquias Locais, a saber:
Em 2015, no decurso da 2.ª Sessão Legislativa da 3.ª Legislatura, através da Resolução n.º 14/15, de 17 de Junho, a Assembleia Nacional aprovou o Plano de Tarefas Essenciais para Preparação e Realização das Eleições Gerais e Autárquicas;
De 2017 a 2021, durante a 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª Sessão legislativa da 4.ª Legislatura, a Assembleia Nacional procedeu a aprovação do seguinte pacote legislativo autárquico: Lei Orgânica do Poder Local – Lei n.º 15/17, de 8 de Agosto, Lei da Tutela Administrativa sobre as Autarquias Locais – Lei n.º 21/19, de 20 de Setembro, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Autarquias Locais – Lei n.º 27/19, de 25 de Setembro, Lei Orgânica sobre as Eleições Autárquicas – Lei n.º 3/20, de 27 de Janeiro, Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais – Lei n.º 13/20, de 14 de Maio, Lei do Regime das Taxas das Autarquias Locais – Lei n.º 12/20 de 14 de Maio, Lei da Transferência de Atribuições e Competências do Estado para as Autarquias Locais – Lei n.º 22/20, de 10 de Julho, Lei sobre o Regime Geral da Cooperação Interautárquica – Lei n.º 30/20, de 28 de Julho, Lei dos Símbolos das Autarquias Locais – Lei n.º 36/20, de 12 de Outubro, Lei sobre os Actos e Formulários dos Órgãos das Autarquias Locais – Lei n.º 2/21, de 25 de Janeiro.
A Requerida, em sede da sua contestação aduziu, ainda, que, em 2024, na reunião conjunta do dia 14 de Maio, foram elaborados e aprovados os Relatórios-Pareceres Conjuntos das Comissões de Trabalho Especializadas e no decurso da 5.ª Reunião Plenária Ordinária da 2.ª Sessão Legislativa da 5.ª Legislatura, realizada no dia 23 de Maio do corrente ano, foram os mesmos apresentados e votados favoravelmente, tendo a Assembleia Nacional procedido a aprovação de um (1) Projecto de Lei e (1) uma Proposta de Lei, a saber:
A Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais, submetida pelo Titular do Poder Executivo, aprovada na generalidade, por 93 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Vide fls. 146 dos autos;
O Projecto de Lei da Institucionalização Efectiva das Autarquias Locais, submetido pelo Grupo Parlamentar da UNITA, igualmente aprovado na generalidade, por 95 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Vide fls. 146 dos autos.
Outrossim, decorre de fls. 154 e 155 dos autos prova material bastante do facto de, na sequência da convocatória de 30 de Maio de 2024, emitida pelo Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos, que tinha como ordem de trabalhos a apreciação na especialidade dos Projectos referidos, o Presidente da 10.ª Comissão e Vice Presidente do Grupo Parlamentar do MPLA e o Presidente da 4.ª Comissão, membro do Grupo Parlamentar da UNITA, subscritor do requerimento da presente acção de inconstitucionalidade, apresentaram a concordância dos Grupos Parlamentares da UNITA e do MPLA em suspender a continuidade da sessão na especialidade, para que fosse criada uma comissão técnica de trabalho composta por Deputados representantes de todas as bancadas parlamentares, com o fito de, a partir das duas iniciativas, ser criado um único Projecto de Lei.
Contudo, observa-se que tais actos têm sido, até a data, insuficientes para a concretização efectiva das autarquias.
Em sede de apreciação, pode levantar-se a problemática do poder discricionário do legislador e da natureza política desta omissão (decisão). Considerando que o legislador constituinte atribuiu à Assembleia Nacional o poder discricionário de instituir as Autarquias Locais, condicionado, todavia, à “oportunidade da sua criação”, poderá, então, questionar-se se existe ou não violação desse poder discricionário por parte do Parlamento.
Dito de outro modo, cumpre saber se o legislador goza da liberdade de determinar os modos, termos e/ou prazos para a criação do diploma autárquico, atento ao princípio da separação de poderes, a máxima legitimação que caracteriza o Poder Legislativo, e o facto de tal decisão poder configurar-se como meramente política.
A lei é o instrumento fundamental para alcançar certos objectivos de transformação social; portanto, a sua eficácia, entendida como capacidade de atingir os fins perseguidos, representa um aspecto central da virtualidade e funcionalidade do modelo político. Assim, a Assembleia Nacional, no que ao processo legislativo diz respeito, detém competências próprias, atribuídas por força das disposições constitucionais (artigos 141.º, 142.º, 160.º, 161.º, 162.º, 163.º, 164.º e 165.º, todos da CRA).
Este entendimento pode, aliás, ser colhido da jurisprudência consolidada deste Tribunal, nomeadamente na leitura do Acórdão n.º 881/2024, de 2 de Abril, onde se fundamenta que:
“A base constitucional do Regimento da Assembleia Nacional reside na autonomia do Poder Legislativo estabelecida no artigo 155.º da CRA, segundo o qual “a organização e o funcionamento interno da Assembleia Nacional regem-se pelas disposições da presente Constituição e da lei”. A terminologia “lei”, entende-se aqui, o Regimento da Assembleia Nacional e demais legislação parlamentar. Os representantes do povo podem e devem determinar o curso da estrutura e do funcionamento, de forma autónoma, sem o envolvimento de outros órgãos do Estado. A autonomia do regimento interno é um aspecto fundamental da autonomia parlamentar que abrange o âmbito do processo (procedimento), bem como da auto-organização (estrutura organizacional) do Parlamento.
O Regimento da Assembleia Nacional, junto dos demais regulamentos internos, constitui um diploma jurídico que não deve ser entendido isoladamente do processo de tomada de decisão democrática, mas sim como um todo. Deve, portanto, estar relacionado, por exemplo, com a Lei dos Partidos Políticos e direito de voto. Assim como para estas leis, a Constituição descreve apenas as premissas e as bases para a sua organização e funcionamento, o Regimento da Assembleia Nacional está revestido de igual natureza. A Lei Partidária, a Lei Eleitoral e a Lei Parlamentar constituem os regimes jurídicos que proporcionam um quadro jurídico para o processo político. Normativamente, tal entendimento resulta do conteúdo vertido nos artigos 17.º, 143.º e 160.º, todos da CRA”.
O mesmo entendimento é sustentado no Acórdão n.º 925/2024, de 14 de Novembro, ao afirmar que: “(…) no âmbito das suas competências organizativas, a Assembleia Nacional, enquanto órgão de soberania, tem proficiência para legislar sobre a sua organização interna, ou seja, aprovar normas que regulam o seu próprio funcionamento, em forma de Lei Orgânica, por força do artigo 155.º, da alínea a) do artigo 160.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 166.º, todos da CRA”.
À luz desta versatilidade geral, a natureza da discricionariedade na actividade legislativa, exprime um conceito complexo, inicialmente desenvolvido pela doutrina através da importação de categorias alheias à teoria constitucional propriamente dita. O poder discricionário legislativo, entendido como uma limitação legal à liberdade parlamentar, paradoxalmente representaria, tanto a manifestação de uma actividade vinculada e, portanto, não inteiramente política, como de uma margem de livre apreciação.
A noção de discricionariedade legislativa manifesta-se de modo mais evidente quando se pretende sujeitar o exercício do poder parlamentar a um juízo de adequação quanto aos objectivos a alcançar, o que pode colocar em risco a autonomia parlamentar e o princípio da separação de poderes. A possibilidade de um outro órgão interferir nas escolhas do Parlamento soberano, avaliando a adequação das suas decisões legislativas, pode efectivamente restringir os espaços de liberdade que a discricionariedade parece prever.
Isso significa que, no que toca às proposições normativamente significativas da Constituição, quer estabeleçam regras substanciais ou indiquem objectivos e programas a atingir, deve admitir-se, realisticamente, que a possibilidade de sancionar legalmente a inactividade do legislador pelo juiz constitucional é comparativamente mais limitada do que para qualquer outra função pública (Vide: Enzo CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano: Giuffrè, 1961, pp. 187 ss..).
Neste sentido, a questão central está em determinar se é ou não admissível um controlo jurisdicional sobre a actividade legislativa enquanto manifestação de uma função eminentemente política. Em regra, a função legislativa é entendida como livre na definição dos seus fins, e, portanto, insusceptível de ser sujeita a limites substanciais por via de juízo judicial. (Vide: Costantino MORTATI, La Costituzione in senso materiale (1940), Milão: Giuffrè, 1998, p. 184 e ss.; Vezio CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milão: Giuffrè, 1952, p. 61 e ss).
Assim, o exercício da função legislativa deve ser configurado como discricionário, em termos estritos, entendendo-se como uma simples liberdade de escolha entre vários instrumentos, todos eles abstratamente compatíveis com uma finalidade que pode ser derivada de fontes superiores, sendo susceptível de controlo jurisdicional. Neste contexto, Giuseppe Guarino afirma que “o poder político é sempre livre na sua finalidade, pelo que os actos políticos por definição, não podem incorrer no vício do excesso de poder” (in: Giuseppe GUARINO, Profili costituzionali, amministrativi e processuali delle leggi per l’Altopiano silano e sulla riforma agraria e fondiaria, in: Foro italiano, 1952, p. 73 ss).
Esta perspectiva permite delinear os limites e a natureza da discricionariedade legislativa, ligando-a à possibilidade de controlo de constitucionalidade. Quando se fala de discricionariedade, exprime-se a ideia de que um poder ou actividade jurídica se situa entre a absoluta vinculação a uma norma e a completa liberdade decisória.
Se isto pode ser afirmado em termos gerais, as especificidades da discricionariedade do legislador impõem, no entanto, um estreitamento do “campo”. Mais concretamente, o termo discricionariedade é utilizado com referência à actividade legislativa, partindo-se do pressuposto de que o legislador está vinculado, pelo menos em certos casos, à prossecução de fins estabelecidos por normas constitucionais ou interpostas, assim como a actividade administrativa está vinculada à prossecução do interesse público, tal como determinado pela lei. Por conseguinte, para que possa identificar-se um vício de excesso de poder legislativo (entendido como desvio de poder) com características análogas às do correspondente vício do acto administrativo, é necessário que se identifique uma norma constitucional efectivamente delimitadora da finalidade do exercício daquele poder.
Com efeito, se existem casos em que as normas constitucionais fixam os objetivos que o legislador deve prosseguir, do mesmo modo que, normalmente, a lei determina os fins da actividade administrativa, então, nesses casos, o legislador dispõe, efectivamente, de um poder de escolha. Todavia, esse poder não pode ser qualificado como livre (ou arbitrário), porquanto deverá, em qualquer circunstância, orientar-se para a prossecução do fim indicado pelas normas constitucionais ou por normas de valor equivalente. A tal poder ajusta-se, por conseguinte de forma adequada, a qualificação de “discricionário”.
Deste modo, a configurabilidade do vício do excesso de poder legislativo integra, no essencial, uma noção de discricionariedade de tipo classicamente administrativo, entendida como a superação dos limites impostos ao exercício do poder legislativo do Parlamento.
Como aponta Francesco Carnelutti, “o excesso do legislador é representado, em última análise, como um defeito da causa, isto é, como um abuso de poder, que ocorre quando o interesse prosseguido pela lei colide com aquele imposto pela Constituição, ou quando a lei revele uma incongruência absoluta entre a norma estabelecida e o fim de interesse público que se pretendia prosseguir” (Francesco CARNELUTTI, Eccesso di potere legislativo, nota a Cassazione Sezioni Unite 28 luglio 1947, n. 1212, in Rivista di diritto processuale, 1947, p. 193 ss).
Em sentido confluente, defende Vital Moreira, “a Constituição é também um conjunto de normas positivas que exigem do Estado e dos seus órgãos uma actividade, uma acção. O incumprimento dessas normas, por inércia do Estado, ou seja, por falta de medida (legislativa ou outras) ou pela sua insuficiência, deficiência ou inadequação, traduz-se igualmente numa infracção da Constituição” (Vital MOREIRA in sub Judice de janeiro - junho de 2001 APUD, Onofre Dos SANTOS, Lei dos Processo Constitucional Anotada, Lunada: Textos Editores, 2016, p. 39)
Na mesma perspectiva Robert Alexy fundamenta que “considerando que a ideia constitucional dos direitos fundamentais existe para protecção dos cidadãos, não apenas contra os actos do Poder Executivo, pois que para isso bastaria a legalidade administrativa, mas também contra as próprias maiorias parlamentares (ditadura da maioria) que deveriam respeitar valores tão importantes como estatuto fundamental dos indivíduos na sociedade política, e, neste sentido, entendendo que os direitos fundamentais são posições muito importantes que a sua garantia ou não garantia podem ser deixadas à vontade, muitas vezes do arbítrio das maiorias parlamentares (Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Berlin: Suhrkamp, 1986, pág. 432-433, apud Adlezio AGOSTINHO, Manual de Direito Processual Constitucional – Princípios Doutrinários e Procedimentais sobre as Garantias Constitucionais, Parte Geral & Especial, Lisboa: AAFDL, p. 739).
Como anteriormente se observou, a teoria do excesso de poder tem, de facto, implicações relevantes na própria configuração do Estado, partindo do pressuposto de que o direito pode ser positivamente vinculado à realização de um interesse público constitucionalmente definido.
Portanto, num sistema inspirado nos cânones da democracia pluralista, caracterizada pela livre concorrência entre as forças políticas e sociais, não se afigura possível configurar um interesse público unitário ao qual o legislador deva necessariamente subordinar a sua acção. Pelo contrário, como referido supra, impõe-se postular a existência de diferentes orientações políticas que, ciclicamente, podem influenciar a actividade legislativa em direcções totalmente divergentes, tendo como único limite o respeito pelos princípios constitucionais.
A actividade legislativa encontra-se, assim, liberta da vinculação a um único interesse público constitucionalmente definido, o que permite que o actue segundo diferentes finalidades políticas, desde que estas respeitem o quadro normativo constitucional, funcionalizando a acção legislativa de forma dinâmica e pluralista.
De acordo com Vezio Crisafulli, a função legislativa deve ser qualificada como discricionária, unicamente em relação a hipóteses de normas constitucionais programáticas, que prescrevem ao legislador a prossecução de determinados objectivos (vide: Vezio CRISAFULLI, Le norme programmatiche della Costituzione, in AA VV., Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano 1952, p. 59.) Tal entendimento remete para a posição sustentada por Hans Kelsen, ao considerar a Constituição como um conjunto de prescrições normativas, distintas das demais apenas por características formais específicas, e não, necessariamente, por um conteúdo materialmente vinculativo (Cfr. Hans KELSEN, “Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit” in: Veroffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 5, Berlin: De Gruyter, 1929).
Costantino Mortati defende a ideia de uma concepção de constituição como uma tabela de valores completa em si mesma, inervada por um finalismo imanente, capaz de impor restrições objectivamente cognoscíveis também à actividade legislativa (Costantino MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova: Cedam, 1991, p. 291 ss.). Neste sistema, a discricionariedade é entendida como um conceito unitário, que se manifesta de forma variável, consoante a natureza e o tipo de interesses públicos prosseguidos pelos órgãos políticos (Costantino MORTATI, Sull´eccesso di potere legislativo, in: Giurisprudenza italiana, I, 1949, p. 823)
Assim, nos casos em que a actividade legislativa se encontra constitucionalmente vinculada à prossecução de determinados fins públicos, a discricionariedade legislativa assume a forma de um limite funcional, de natureza predominantemente interna à própria actividade de produção normativa.
A definição dos espaços discricionários reservados ao Parlamento não estaria, de facto, completa sem se atender à forma como este conceito foi historicamente construído na praxe do único órgão efectivamente habilitado a sindicar os limites e o exercício do poder legislativo: o Tribunal Constitucional. Este exerce tal função tanto ao ponderar as escolhas legislativas efectuadas pelo Parlamento na criação de um diploma legal, como nos casos de absoluta indiferença constitucional, em que o legislador parece dispor de liberdade total para definir os meios e os fins da sua acção política.
Consequentemente, o instrumento da discricionariedade desempenha uma dupla função: por um lado, permite ao Tribunal Constitucional delimitar autonomamente os contornos da sua própria actividade jurisdicional; por outro, reconhece ao legislador um âmbito de actuação estritamente reservado, inerente à sua função de mediação política, tradicionalmente desenvolvida no seio parlamentar.
A racionalidade subjacente ao sistema de "checks and balances" previsto na ordem jurídico-constitucional angolana não visa, pois, substituir um órgão dotado de máxima discricionariedade política por outro detentor de ampla liberdade interpretativa, mas antes assegurar um equilíbrio substancial entre os poderes do Estado, no qual cada órgão limita e controla o exercício do poder do outro, dentro do respeito pela Constituição.
O Tribunal Constitucional, portanto, não substitui, de facto, o Parlamento enquanto órgão de soberania da ordem jurídica mas, relaciona-se com este numa posição de substancial inter-dependência de funções, dando origem a um sistema de contrapesos, no qual ambos os órgãos se limitam reciprocamente, fiscalizando o exercício dos respectivos espaços de discricionariedade. Através do controlo jurisdicional, a Corte limita o poder discricionário do legislador, enquanto o Parlamento continua a deter uma quota intangível de liberdade política, insindicável por qualquer tipo de controlo e que, por sua vez, actua como limite à discricionariedade interpretativa do juiz das leis (Cfr. Angioletta Spert, Corti supreme e conflitti tra poteri: spunti per un confronto Italia-Usa sugli strumenti e le tecniche di giudizio del giudice costituzionale / i. - Torino : G.Giappichelli Editore, 2005, pp. 96 ss).
Pode, grosso modo, concluir-se que a avaliação do cumprimento dos limites constitucionais por parte de um acto legislativo apenas pode ser feita a posteriori, normalmente pelo Tribunal Constitucional. Tal apreciação pode conduzir à impugnação de actos legislativos sempre que se entenda ter havido abuso ou desvio de poder. Aliás, o princípio do pluralismo exclui, de forma inequívoca, a possibilidade de se configurar um interesse público único ao qual o legislador deve necessariamente subordinar-se. Ao invés, esse princípio pressupõe a coexistência de diferentes orientações políticas, que podem, alternadamente, influenciar a actividade legislativa, ainda que em direcções totalmente divergentes, tendo como único limite os princípios constitucionais.
Dos autos sub judice pode retirar-se a conclusão de que o Projecto de Lei e a Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias já foram aprovados na generalidade. Ora, pode colocar-se a questão de saber se a simples apresentação de um projecto ou proposta de lei tem, só por si, a virtualidade de afastar a existência de omissão legislativa, para efeito de eventual declaração de inconstitucionalidade por omissão.
A doutrina e a jurisprudência portuguesa têm entendido que tal perspectiva é admissível, por um lado, em virtude da função de controlo negativo atribuída ao Tribunal Constitucional de Portugal, e, por outro, em respeito pela separação de poderes, ou seja, pelo poder discricionário do Parlamento. Nestes termos, o mérito da actividade parlamentar não pode ser controlado pelo Tribunal Constitucional, independentemente do facto de já ter decorrido o prazo legal de quarenta e cinco dias dentro do qual a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias deve proceder à apreciação, na especialidade, do projecto e da proposta em causa. Vide, neste sentido, o Acórdão n.º 36/90, de 14 de Fevereiro, do Tribunal Constitucional de Portugal. Na mesma perspectiva, Jorge MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 2.ª ed., Coimbra Editora, 1983, n.º 119, VII).
Tal entendimento poderia ser aceitável também na realidade angolana, caso existissem prazos legalmente estabelecidos na Constituição da República de Angola ou no Regimento da Assembleia Nacional para a aprovação do diploma legal, nomeadamente para as fases de discussão na generalidade, apreciação na especificidade e aprovação final global, e caso não estivessem em causa valores, princípios e direitos fundamentais. No entanto, verifica-se que não existem prazos fixos e claros na tramitação do processo legislativo, e os Requerentes invocam alegadas violações de direitos fundamentais, o que, de certa forma, dificulta a aplicação da perspectiva doutrinal e jurisprudencial portuguesa no contexto constitucional angolano.
Ainda que se aceite a noção de prazo razoável como parâmetro de avaliação do tempo em que o Parlamento deve concluir a aprovação de um projecto de lei ou proposta legislativa, nos termos da Lei do Regimento da Assembleia Nacional e em respeito ao princípio da descontinuidade parlamentar, esse período corresponderia, em regra, à duração de uma legislatura, que é de cinco anos. Acontece, porém, que, desde a aprovação da Constituição, em 2010, já decorreram três legislaturas, e, até à data presente, o processo legislativo em causa permanece em curso.
A potestas legislativa apresenta-se, assim, como um poder formalmente livre nos fins, que, à primeira vista, não admitiria limitações significativas à sua acção. Configurar o exercício da função legislativa em termos estritamente discricionários, entendido como simples liberdade de escolha entre múltiplos instrumentos, todos abstratamente compatíveis com objectivos reconduzíveis a fontes supranacionais e, ademais, sujeito à apreciação jurisdicional, colidiria com a estrutura consolidada do poder político.
Sendo os direitos fundamentais o limite da actuação do legislador positivo, o Tribunal Constitucional, enquanto legislador negativo e guardião da Constituição, é chamado, no âmbito das suas próprias características funcionais de limitação e controlo do poder, a desenvolver uma actividade estritamente jurisdicional, por meio da interpretação das disposições constitucionais em prol da tutela dos direitos fundamentais ou, em virtude das especificidades que caracterizam o seu magistério, a exercer, igualmente, uma função normativa stricto sensu.
Destarte, analisando a natureza normativa do artigo 242.º da Constituição da República de Angola (CRA), a inexistência expressa do comando normativo e tendo, simultaneamente, em consideração o poder discricionário do Parlamento e os direitos, liberdades e garantias fundamentais que os Requerentes alegam estar hipoteticamente violados em resultado da inação legislativa, numa ponderação de interesses entre, por um lado, os direitos civis e políticos — nomeadamente, o direito de eleger e ser eleito e o direito de participação na vida política do Estado, acesso a cargos públicos consagrados nos artigos 52.º, 53.º e 54.º, todos da CRA, — e, por outro, o direito ao exercício do poder político por parte das forças políticas, o direito à livre concorrência e disputa democrática entre as forças políticas, bem como o direito ao exercício da democracia pluralista no seio do Parlamento consagrados nos artigos 1.º, 2.º, 4.º 17.º e 165.º, todos da CRA, enquanto elementos estruturantes dos Estados constitucionais, esta Corte Constitucional entende não se verificar, stricto sensu, uma sobreposição dos primeiros em relação aos segundos, nos termos do artigo 57.º da CRA, não se configurando, consequentemente, uma situação de inconstitucionalidade por omissão legislativa.
Entretanto, não obstante, enquanto órgão guardião dos supremos valores constitucionais, esta Corte insta às forças políticas representadas no Parlamento para que encontrem os mecanismos e procedimentos adequados à aprovação da Lei de Institucionalização das Autarquias, de forma a dar concretização aos preceitos constitucionais de natureza programática e, consequentemente, evitar a postergação, ad aeternum, do exercício dos direitos civis e políticos, garantindo, assim, a necessidade de equilibrar a confluência de todos os interesses em jogo — desde os interesses político-partidários até ao interesse maior do soberano, o povo.
A não aprovação da referida lei não resulta, é certo, de uma decisão dolosa ou arbitrária por parte do Parlamento, mas sim da ausência de consenso entre as forças políticas nele representadas. No caso em apreço, qualquer imposição de natureza imperativa sobre o órgão legislativo poderia pôr em causa os princípios fundamentais da democracia pluralista e comprometer a própria dinâmica de busca de consensos que caracteriza as assembleias parlamentares em sistemas constitucionais, compostas por forças políticas legitimadas pelo sufrágio e portadoras da vontade soberana resultante das eleições. Como sublinha o teórico alemão Christian Starck, a democracia assenta no pluralismo, nos debates e na adopção de mecanismos que, não raras vezes, dificultam a obtenção imediata de consensos. Esses consensos, contudo, devem ser progressivamente construídos por meio do esforço deliberativo e da integração institucional. Os instrumentos jurídicos que promovem tal integração incluem o debate parlamentar, a actuação de autoridades públicas e, sobretudo, as decisões dos órgãos constitucionalmente competentes, como os dos poderes Legislativo e o Judiciário, que, ao exercerem as suas funções, podem consolidar o consenso fundamental e os efeitos jurídicos que dele decorrem. (Vide: Christian STARCK, “Die Verfassungs auslegung” in Isense/Kirchhof (ed.) Handbuch des Staatsrechts, Vol. VII, 1992 pp. 28).
Assim, ainda que não se verifique uma violação concreta e efectiva de algum direito fundamental, a postergação do exercício dos direitos civis e políticos que decorre, implicitamente, da não aprovação do referido diploma legal constitui motivo suficiente para que este Tribunal de jurisdição constitucional inste às forças políticas no sentido de encontrarem os mecanismos procedimentais adequados, desde a construção de consensos até à conclusão da discussão na especialidade, com vista à aprovação da Lei de Institucionalização das Autarquias e em respeito aos preceitos constitucionais programáticos.
Em conclusão:
Ao deferir para mais tarde o exercício dos direitos civis e políticos decorrente da não aprovação da Lei sobre a Institucionalização das Autarquias, embora preocupante, não gera, por si só, consequências normativas que configurem violação de direitos fundamentais, nem constitui fundamento bastante para interromper a legítima busca de consenso político e o regular funcionamento do processo democrático levado a cabo pelos legítimos representantes da vontade soberana do povo, reunidos na Assembleia Nacional.
Em conclusão, esta Corte Constitucional considera que, do cotejo do disposto no artigo 242.º da Constituição com os fundamentos apresentados pelos Requerentes e pela Requerida, do alcance normativo do dispositivo em causa e da necessária ponderação dos interesses constitucionalmente protegidos em pauta, não resultam nem subsistem dúvidas quanto à inexistência de qualquer violação dos limites normativos consagrados no artigo 242.º da CRA, não se constatando desrespeito, abuso ou desvio nos actos do poder legislativo. Com efeito, não se verifica, stricto sensu, qualquer inconstitucionalidade legislativa por omissão.
Nestes termos,
DECIDINDO
Tudo visto e ponderado, acordam, em Plenário, os Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional, em: NÃO DECLARAR A INVOCADA INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO.
Sem custas, nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 3/08, de 17 de Junho – Lei do Processo Constitucional.
Notifique.
Tribunal Constitucional, em Luanda, aos 29 de Setembro de 2025.
OS JUÍZES CONSELHEIROS
Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso (Presidente) ________________________
Victória Manuel da Silva Izata (Vice-Presidente) __________________________
Amélia Augusto Varela _____________________________________________
Carlos Alberto B. Burity da Silva_______________________________________
Carlos Manuel dos Santos Teixeira_____________________________________
Emiliana Margareth Morais Nangacovie Quessongo (Com declaração de Voto Vencido)
Gilberto de Faria Magalhães (Relator) __________________________________
João Carlos António Paulino__________________________________________
Lucas Manuel João Quilundo_________________________________________
Vitorino Domingos Hossi (Com Declaração de Voto Vencido)
Juiz Conselheiro
Vitorino Hossi
Declaração de Voto Vencido
PROCESSO N.º 1269-A/2025
ESPÉCIE DE PROCESSO: Fiscalização de Omissão Inconstitucional
RECORRENTE: Deputados da Assembleia Nacional
Acção de fiscalização de Insconstitucionalidade por omissão contra a Assembleia Nacional.
Como nota introdutória e reflectindo sobre a realização das autarquias ao longo destes anos, particularmente desde 2010, penso e não poderia deixar de o dizer, que, “o vai e vem” do processo da implementação das Autarquias Locais resulta e está eivado de carga política (por sinal, incofessa) face à vontade em realizá-las, considerando as oportunidades de vantagens eleitorais que delas possam resultar.
Mas, e aqui, entendo que, sendo a “missão” da Corte Constitucional Pensar Constituição, considero que o próprio “apreciando” do Projecto de Acórdão reforça em mim a convicção de que há, de facto, uma inconstitucionalidade por omissão, não obstante se recomendar a célere busca de consensos para a concretização do desiderato pretendido, a bem do processo Democrático de Direito e à bem do respeito das cânones da CRA.
Perante este quadro, considere-se ab initio que:
1-.A Inconstitucionalidade por Omissão, no caso em análise, ocorre quando o Estado ou seus órgãos não actuam de acordo com a Constituição, deixando de cumprir com deveres ou obrigações la estabelecida.
Há omissão quando:
- Falta de legislação;
O Estado não cria leis necessárias para proteger direitos constitucionais.
- Inação administrativa:
Os Órgãos administrativos não tomam medidas necessárias para implementar políticas públicas ou proteger direitos.
- Violação de direitos fundamentais:
O Estado não protege adequadamente os direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, entre outros…
Creio, em síntese, que neste processo houve atropelo destes três princípios basilares, o que leva à uma flagrante inconstitucionalidade por omissão face ao prolongado vazio constitucional, consequência dos adiamentos recorrentes a que vimos assistindo ao longo dos últimos anos, sabendo-se que na actual Constituição, a de 2010, está devida e claramente plasmada ou consagrada a realização das autarquias locais e a realização e edição das mesmas.
2- O agendamento para discussão, votação e aprovação do Projecto da Lei da Institucionalização das autarquias locais não obstante ter sido já aprovado na generalidade, leva-nos a constatar a violação do n.º2 do artigo 242º da Constituição da República, configurando uma verdadeira omissão. O que é uma inconstitucinalidade ...
Pese embora a actividade da requerida se centre na actividade legislativa, de modo a que se liberte à vinculação de um único interesse público constitucionalmente definido, o que permite que actue segundo diferentes finalidades politicas, desde que estas respeitem o quadro normativo constitucional, funcionando a acção legislativa de forma dinâmica e pluralista, não obstante ter, na sua génese a característica de normas programáticas, nesta perspectiva deve-se considerar a efectivação e a garantia da exercício de execução dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Há pois, obrigatoriedade de velar pela emissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as normas constitucionais.
-Com isso, vale dizer que as normas constitucionais exigem a edição de comando integrativo, que investem o legislador, se considerar conveniente, regular determinada matéria constitucional, máxime, a aprovação do Projecto de Lei da Institucionalização das autarquias locais.
-Desta maneira (forma), infere-se, de pronto, que a não aprovação do Projecto da Lei da Institucionalização das autarquias, se relaciona às omissões legislativas por ser conteúdo impostivo, como concreto, que atribui o dever de elaboração do regime legal complementar, diversa ou diferentemente das normais facultativas, em que permanece ampla a discricionaridade do legislador, insuscetível de controlo neste contexto.
-Vale lembrar dizer, que, por fiscalização da insconstitucionalidade por omissão, em sentido lato pode definir-se “Omissão Inconstitucional como abstenção de um órgão do Estado ou colectividade, em cumprir com os deveres ou obrigações que lhe são, imperativamente determinadas pela constituição” como bem o diz Carlos Blanco de Morais (Justiça Constitucinal, 2ª edição, Tomo II Coimbra, 2011 pag 497) que, como é evidente, se verifica a actuação da requerida.
-Deste modo, não obstante o presente Acórdão qualificar o artigo 242º da CRA, como norma programática, saliente-se que, sobre à mesma, existe a mesma preocupação: a omissão legislativa devido à caracterização, de uma exigência constitucional de acção; isto é, quando estiverem em causa normas da CRA, expressamente vinculadas ao princípio da legalidade, sendo que a sua não efectivação constitui uma verdadeira omissão constitucional, por violação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais sendo certo que o legislador constituinte impõe a norma citada.
- Neste quadro, ensina Barbosa Rodrigues o seguinte: “ do conceito de Omissão resulta a integridade das normas programáticas, porque, ir mais além, implica a substituição da função legislativa pela jurisdicional, com a correspondente supremacização de um órgão, quando se encontra, somente, em omissão, o acto legislativo que lhe oferece uma adequada implementação e quando este acto legislativo a determinar, ex novo, a essencialidade do respectivo conteúdo legal” (Manual de Direito Constitucional, Quid iuris, 2023 p.383).
Se bastante não fosse, pode-se afirmar que a ocorrência de inconstitucionalidade por omissão, em virtude, principalmente, do não cumprimento de imposições constitucinais concretas, máxime o artigo 242º da CRA, norma com densidade bastante para se tornar exequível por si mesma e de ordem imperativa, de tal forma que a inconstitucionalidade por omissão se situa na fronteira entre e discricionaridade do legislador e o dever de legislar que lhe é imposto, caso que não se verifica com a ( ou na) actuação da Requerida, o que traduz a ideia da vontade discricionária de não legislar, caso em que deveria actuar com base no Poder de conformação que lhe foi conferido mas, também, podendo ter o dever de legislar a partir do que lhe é exigido pela Constituição, configurando-se, assim e no caso, uma verdadeira inconstitucionalidade por omissão.
-Nesta senda, como alega e bem, Patrícia Pinto Alves, “pode existir inconstitucionalidade por omissão de actos legislativos quando o legislador mantem desigualdade ou não estabelece a igualdade a direitos fundamentais o necessário suplemento protecionista, quando torna inexequíveis normas constitucionais que são exequíveis por si mesmas” (Direito Constitucional-Ensinamentos, Quid iuris, 2022 p. 369);
-Assim sendo, em linha de princípio, a verificação judicial das omissões inconstitucionais não retira do legislador a sua liberdade de conformação diante de uma imposição legiferante específica e concreta. O legislador não poderá deixar de atendê-la, mas, dentro das hipóteses de cumprimento, em face de diferentes opções igualmente razoáveis, tendo a faculdade de escolher a mais conveniente e oportuna à concretização constitucional.
-Aqui chegados, verificamos que há uma verdadeira omissão inconstitucional, por ser uma imposição legal a aplicação do artigo 242º da CRA, sendo que a sua não execução, com o agendamento imediato para a discusão e aprovação do Projecto de Lei da Institucionalização das Autarquias locais, se torna uma verdadeira e flagrante inconstitucionalidade, por colidir com os princípios estruturantes da constituição da República de Angola.
Luanda 29 de Setembro de 2025
O Juiz Conselheiro
_________________
Vitorino Domingos Hossi
Declaração de Voto
Acórdão n.º 1027/ 2025
Apresento a seguir a minha justificativa de ter votado vencida o Acórdão n.º 1027, do processo n.º 1269-A/2025 sobre Fiscalização de Inconstitucionalidade por Omissão, sendo que o objecto foi verificar se a não aprovação, até ao momento, da Lei de Institucionalização das Autarquias pelo Parlamento, constitui ou não omissão incons.titucional, por força do estabelecido no n.º 2 do art.º 242.º da Constituição da República de Angola, doravante CRA.
Discordo especialmente da ponderação da matéria de facto, pois não perfilho do entendimento de que a) a liberdade legislativa do Parlamento, porque informada também por discricionariedade, seja insindicável por esta Corte; e, b) que não haja omissão inconstitucional.
Entendo que pela importância dogmática que a questão encerra e a relevância social da mesma, o exercicio do Tribunal poderia, o melhor possível, promover audição das partes com interesse processual, inclusive os partidos políticos em diálogo para uma melhor compreensão das soluções em discussão. Não para sindicar o seu mérito político, mas tão somente para avaliar as possibilidades de determinalidade da implementação das autarquias locais, o que facilitaria o exercício de ponderação e valoração das questões de facto e dos princípios constitucionais subjacentes.
Considero, por um lado, que o processo se coloca no cerne da matéria sobre controlo horizontal de poderes, cabendo ao Tribunal Constitucional ajuizar os limites a que o poder legislativo está sujeito, sem entrar no mérito da sua actividade política, que como disse é insindicável, especialmente, na sua dimensão de mérito. Vale apenas lembrar que, o controlo jurisdicional da actividade legislativa, neste caso, é, efectivamente, um mecanismo de garantia contra o uso arbitrário do poder, de protecção dos interesses minoritários e salvaguarda da efectividade dos direitos e liberdades dos cidadãos (António Cortês, Jurisprudência dos Princípios, Universidade Católica Editora, 2010).
Considero, também, que está em causa uma necessária reflexão sobre o uso racional do tempo e o princípio do Estado Democrático, no nosso contexto. O tempo como grandeza física, possui, neste caso, uma dimensão normativa fundamental, para responder a questão sobre, qual é o tempo razóavel ou necessário para se concretizar as autarquias em Angola?
Para efeitos desta apreciação, a questão tem que ver com prazos, estritamente, e não com o sentido de oportunidade, inserido no artigo em apreciação, que, a meu ver, é de dimensão política. Não é sobre oportunidade que me expresso.
A matéria das omissões inconstitucionais, no exercicio da função jurisdicional, é complexa em vários lugares do mundo. É um tema que se coloca na linha ténue dos limites de poderes entre os órgãos de soberania, por isso, todo o cuidado é necessário. No entanto, a vasta doutrina que a defende entende que a mesma é admissível e deve sindicar silêncios, vazios, inadequações, insuficiências normativas ou a inacção do órgão competente, que dificultam ou retardam a concretização da norma constitucional, e por conseguinte o exercício de direitos. Na realidade angolana, é bom enfatizar, como muito bem o faz já o Acórdão, que, por um lado, existe um conjunto de diversas leis sobre as autarquias, por outro, não existe a lei de institucionalização das autarquias, que embora não esteja ainda aprovada, se encontra em processo legislativo.
Ora bem, a forma como o Parlamento decide conduzir o processo legislativo é consequência da sua autonomia, do exercício livre do seu poder, sem ingerências, intromissões ou intereferências de outros órgãos de soberania na sua liberdade institucional. Seja por consenso, por referendo ou outro instrumento que o Parlamento viesse a adoptar, não cabe a esta Corte discutir os seus méritos. A sindicância que se faz é de constitucionalidade sobre a concretização de uma norma constitucional, atraves de leis infra-constitucionais. Nesta dimensão é uma pura sindicância a constitucionalidade da actividade ou acção legislativa em concreto, não das escolhas políticas desta actividade. Como bem lembra a doutrina, esse exercício jurisdicional deve ter como parâmetro a própria Constituição, seja nas suas regras, como nos seus princípios explicítos e implicítos (Fernando Correia, A Justiça Constitucional, almedina, junho, 2001) – como o são, os de interesse neste caso, o do Estado Democrático, da igualdade, da proporcionalidade, da protecção da confiança e da precisão ou determinabilidade das leis.
Entendo que o n.º 2 do art.º 242.º da CRA, estabelece um verdadeiro dever de legislar a institucionalização das autarquias. E, não de qualquer modo, mas de maneira efectiva. Percebo que o sentido dessa norma tem de ser completado pelo art.º 2.º, que nos lembra a tarefa fundamental do Estado promover a eficiência das instituições, bem como as als. d) e f) do art.º 164.º que estabelecem como competências legislativas de reserva absoluta do Parlamento, a produção de leis no domínio da organização e funcionamento do poder local, todos artigos da CRA. Por um lado, fica claro que é ao Parlamento que compete legislar, com eficiência, a institucionalização das autarquias. Por outro lado, para ser adequada, a interpretação tem de incluir elementos históricos - a dimensão social e humana, do tempo e da experiência política na realidade angolana para oferecer um parâmetro de entendimento mais contextualizado, pois, concordo com Kelsen, em a Teoria Pura do Direito, que uma lei em vigor, pode não ser uma lei eficiente. E que a eficiência da lei deve possuir uma componente social, ou seja, ser efectivamente útil para as pessoas para quem a lei se destina.
Vale, no entanto, recordar que Constituição orienta que os assuntos fundamentais do Estado devem ser resolvidos de modo eficiente, daí que defendo caber a verificação da constitucionalidade sobre o uso do tempo na aprovação da Lei de Institucionalização das Autarquias, que está intimamente ligada a densificação do Princípio do Estado Democrático. Com esta exposição, considero que o mandato da Constituição tem natureza de obrigação, que orienta o exercício do poder de modo eficiente e eficaz. Ou seja, dentro do tempo que o órgão competente dispõe, racionalizar a sua actividade, por formas a concretizar o processo de democratização - em que as autarquias desempenham mais um passo necessário. Neste caso, o tempo para actividade legislativa é medido por Legislaturas e Sessões Legislativas, correspondentes aos mandatos electivos.
O pacote legislativo sobre as autarquias começou a ter as primeiras leis aprovadas em 2017. De lá para cá, foi empossada a presente legislatura, em 2022, cujos mandatos cessam em 2027. O processo legislativo para aprovação do referido diploma iniciou na sessão legislativa de 2023 que terminou em agosto de 2024, desde esta altura, mais uma sessão parlamentar iniciou ( em outubtro de 2024) e encerrou (em Agosto de 2025), sem a aprovação da lei em causa. Além dos partidos políticos, existem outras vozes na sociedade que têm defendido a implementação das autarquias, o que demonstra a diversidade de interesses sobre a questão e a sua transcendentalidade política e cívica – a sua dimensão humana e social. Entretanto, tem se defendido que as leis que existem não são suficientes para a concretização das autarquias. Na verdade, a teoria da omissão inconstitucional ensina que a existência (a sua vigência) de uma lei, não impede que a inconstitucionalidade por omissão da mesma seja sindicada, a partir de critérios de adequação e suficiência, com o fim de possibilitar a concretização da norma constitucional.
Considerando que a promessa constitucional de democratização por via do poder autárquico vem da Lei Constitucional de 1975, por essa razão, do ponto de vista histórico introduz-se no léxico da discussão sobre as autarquias, os principios da razoabilidade e proporcionalidade, para uma adequada ponderação de princípios constitucionais em jogo, com o objectivo de garantir a previsibilidade da efectividade do poder autárquico o melhor possível, pois assim manda o princípio da determinabilidade das leis, visando salvaguardar a segurança jurídica decorrente do princípio do Estado de Direito. A democratização por via do poder local, ainda que a norma tenha natureza programática, à luz da emenda de 2021 da Constituição de 2010, manteve o seu carácter efectivo. Significa que, os cidadãos devem poder usufruir dos direitos que a Constituição estabelece, enquanto estão vivos. Todos têm o direito de usufruir tais direitos – de participação nos assuntos políticos e outros – no “tempo útil” da sua existência e toda solução deve considerar esse aspecto. Isto nos lembra que o princípio do Estado Democrático não tem apenas dimensão representativa, mas também dimensão participativa, que deve ser protegida e garantida, de igual modo, como têm sido os direitos de participação para a eleição dos órgãos representativos. Nenhuma das dimensões é menos importante que a outra – nisto reside a igualdade para os cidadãos, numa e noutra – art.º 22.º da CRA e a tutela da confiança.
Por isso, a discussão aqui não é sobre os méritos da actividade política parlamentar, nem tão pouco da actividade partidária intraparlamentar ou de quaisquer promessas que se façam politicamente sobre o tema, é sobre a concretização do princípio do Estado Democrático na sociedade angolana e para os cidadãos angolanos, em tempo útil de forma proporcional e efectiva, seja para os que hoje existem, para os que virão, como para os que desde a Lei Constitucional de 1975 esperam o usufruto dos seus direitos de participação na organização e funcionamento do poder local. Trata-se de garantir direitos e liberdades fundamentais a tempo útil e de modo efectivo.
Assim, concluo que existe Omissão Inconstitucional por inércia do Parlamento, pois vai longo o tempo e inexiste a lei que determinaria quando ocorreriam as eleições autárquicas e demais actos complementares para a implementação efectiva das mesmas. Tal declaração tem os efeitos estabelecidos no n.º 2.º do art.º 232.º da CRA, que harmonizado ao principio da eficiência al. p) do art.º 21.º, também da CRA, resultam na fórmula do art.º 35.º da lei n.º 3/08 de 17 de Junho, sobre o Processo Constitucional, que orienta dar conhecimento da referida inconstitucionalidade ao órgão competente e indicar um prazo razoável para supressão da inacção. Para o caso, defendo que o referido prazo deveria ser até ao fim da 3.º Sessão Legislativa, da presente legislatura, que inicia em Outubro deste ano, até mesmo pelo facto de, ser de conhecimento público, 6existirem progressos no diálogo partidário intraparlamentar em relação a algumas das matérias a legislar no âmbito da lei em causa.
Luanda aos 29 de Setembro de 2025
Emiliana Margareth Morais Nangacovie Quessongo
Juiza Conselheira